
O primeiro livro que li do escritor argentino César Aira foi Un Episodio en la vida del pintor viajero (2000). Já faz algum tempo. Ele foi traduzido para o português por Paulo Andrade Lemos, em uma publicação da Nova Fronteira (2006). Nele, Aira recupera a história da viagem do pintor alemão Rugendas pela Argentina, no século XIX (o pintor veio também para o Brasil com a expedição chefiada pelo Barão de Langsdorff). Aira, que é hoje um dos mais criativos escritores da terra de Gardel, percebeu em Rugendas não apenas o produtor de documentos, mas o precursor do impressionismo.
.

(Rugendas)
.
Raúl Antelo, em um texto sobre Aira, incluído no livro, observa que ele pratica uma estética do abandono: “É uma obra em miniatura que se derrama, como efeito potlatch, através de infinitos títulos. (...) Na estética do abandono, aquilo de que se toma distância é a vida tal como era concebida. A literatura de Aira torna-se assim instrumento privilegiado de negação: ela vê a vida como algo já vivido mas, longe de propor um retorno do mesmo – a vivência do déjà vécu -, o abandono se traduz em êxtase, reverso exato, certamente suplementar, da melancolia modernista”. Carlito Azevedo percebeu que em sua literatura a ética primeira é a do imprevisível, “o maior pecado é o da repetição”. Ou como nos disse Vilma Costa, sobre o livro, “uma história que perde seu atributo exclusivo de testemunho e ganha estatuto de ficcionalidade, num registro do que poderia ter sido”. 
Ver a vida como algo já vivido, no entanto, não completamente passado e resolvido, é o que faz Aira re-colocar, com diferença, um urinol no museu. Assim, o escritor mergulha no anacronismo, desenvolvendo um “procedimento” semelhante ao de Duchamp, a partir de um ready-made. Aliás, acabo de ler Pequeno Manual de Procedimentos, livro organizado por Eduard Marquardt e Marco Maschio Chaga, que reúne vários textos esparsos de Aira. Nele, a noção de procedimento e abandono é recorrente, desde o primeiro ensaio, intitulado “O a-ban-do-no”, em que o escritor parte da idéia de que o abandono está no cerne da prática do escritor: “No princípio está a renúncia. Dela nasce tudo o que podemos amar em nosso ofício”. É graças ao abandono que se pode superar o “velho”. Ou como disse Marquardt, no posfácio do livro, “Como procedimento-base, o abandono prima pela renúncia como possibilidade do novo (...). E pensar a literatura pela idéia do abandono implica, então, no abandono das noções primeiras de abandono e de literatura”. O que está em jogo aqui é um procedimento que desconstrói as tradicionais noções de literatura a partir dos conceitos de valor e qualidade. Ao invés de entender o literário como um sistema orgânico, autonomista, “identitário”, nacional, formal, o procedimento o concebe a partir de outras categorias, estas geradoras de um corpo singular que é ao mesmo tempo disperso e informe. Não se trata, como diz Antelo, de pensar o movimento pendular entre o local e o cosmopolita, mas postular “a diferença de uma singularidade irredutível”. No texto “Arlt” (publicado em 1993, em Paradoxa 7), e que, infelizmente, não consta no livro, Aira lembra que O Grande Vidro, de Duchamp foi abandonado pela metade e que Arlt deixou de escrever romances aos trinta anos. Assim, o que importa não é tanto fazer quanto “encontrar o modo de deixar de fazer, sem deixar de ser artista”. Ou seja, aquilo que Benjamin percebeu no expressionismo, uma vontade, um querer artístico e não um fazer. O que me leva a pensar que a literatura argentina vive um ótimo momento. Sobre isso, vale lembrar as observações feitas por Daniel Estill, quando se refere ao Pequeno Manuel de Procedimentos, de César Aira: “E o homem cita. E discute. Literatura francesa, inglesa, latino-americana, brasileira. E artes plásticas. E jazz. Vanguarda, estética. Esse enciclopedismo portenho que me mata de despeito. Afinal, eles têm Borges, têm Cortázar, têm Piglia e, mesmo não gostando muito de ser incluído nesse rol, têm Cesar Aira também. Claro que temos os nossos monstros sagrados. Mas a impressão que tenho é de que os argentinos incorporaram as lições do "Instinto de nacionalidade" do Machado melhor do que muitos de nós. Há uma universalidade nessa literatura que eles fazem que é genuinamente argentina - o que quer que isso possa significar. Algo que atordoa. Talvez seja melhor esquecer, abandonar, e seguir adiante”.

Ver a vida como algo já vivido, no entanto, não completamente passado e resolvido, é o que faz Aira re-colocar, com diferença, um urinol no museu. Assim, o escritor mergulha no anacronismo, desenvolvendo um “procedimento” semelhante ao de Duchamp, a partir de um ready-made. Aliás, acabo de ler Pequeno Manual de Procedimentos, livro organizado por Eduard Marquardt e Marco Maschio Chaga, que reúne vários textos esparsos de Aira. Nele, a noção de procedimento e abandono é recorrente, desde o primeiro ensaio, intitulado “O a-ban-do-no”, em que o escritor parte da idéia de que o abandono está no cerne da prática do escritor: “No princípio está a renúncia. Dela nasce tudo o que podemos amar em nosso ofício”. É graças ao abandono que se pode superar o “velho”. Ou como disse Marquardt, no posfácio do livro, “Como procedimento-base, o abandono prima pela renúncia como possibilidade do novo (...). E pensar a literatura pela idéia do abandono implica, então, no abandono das noções primeiras de abandono e de literatura”. O que está em jogo aqui é um procedimento que desconstrói as tradicionais noções de literatura a partir dos conceitos de valor e qualidade. Ao invés de entender o literário como um sistema orgânico, autonomista, “identitário”, nacional, formal, o procedimento o concebe a partir de outras categorias, estas geradoras de um corpo singular que é ao mesmo tempo disperso e informe. Não se trata, como diz Antelo, de pensar o movimento pendular entre o local e o cosmopolita, mas postular “a diferença de uma singularidade irredutível”. No texto “Arlt” (publicado em 1993, em Paradoxa 7), e que, infelizmente, não consta no livro, Aira lembra que O Grande Vidro, de Duchamp foi abandonado pela metade e que Arlt deixou de escrever romances aos trinta anos. Assim, o que importa não é tanto fazer quanto “encontrar o modo de deixar de fazer, sem deixar de ser artista”. Ou seja, aquilo que Benjamin percebeu no expressionismo, uma vontade, um querer artístico e não um fazer. O que me leva a pensar que a literatura argentina vive um ótimo momento. Sobre isso, vale lembrar as observações feitas por Daniel Estill, quando se refere ao Pequeno Manuel de Procedimentos, de César Aira: “E o homem cita. E discute. Literatura francesa, inglesa, latino-americana, brasileira. E artes plásticas. E jazz. Vanguarda, estética. Esse enciclopedismo portenho que me mata de despeito. Afinal, eles têm Borges, têm Cortázar, têm Piglia e, mesmo não gostando muito de ser incluído nesse rol, têm Cesar Aira também. Claro que temos os nossos monstros sagrados. Mas a impressão que tenho é de que os argentinos incorporaram as lições do "Instinto de nacionalidade" do Machado melhor do que muitos de nós. Há uma universalidade nessa literatura que eles fazem que é genuinamente argentina - o que quer que isso possa significar. Algo que atordoa. Talvez seja melhor esquecer, abandonar, e seguir adiante”.
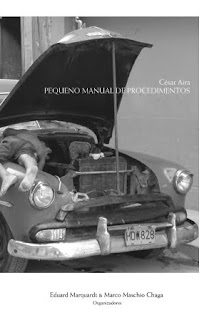
A renúncia é tomada por Aira como utopia. Segue-se assim a lição de Rimbaud, mas apenas em parte. Basta lembrar da entrevista que o escritor argentino concedeu ao programa “Off the Record”, do Chile, lembrada no posfácio do livro, em que ele confessou que a certa altura assumira em sua vida uma postura rimbaudiana para com a literatura: abandoná-la ou não escrever mais. No entanto, na mesma entrevista, dizia que jamais poderia abandoná-la, porque é preciso continuar: “Mesmo o abandono deve ser abandonado”. Outra maneira de entender a mesma premissa seria interpretar o conto sintomático de Melville da seguinte maneira: “Eu prefiro não fazer!”, dizia Bartleby. O personagem talvez “preferisse não” apenas para nos confessar: “Façam vocês!”. Implicitamente, Melville bem poderia estar sugerindo: “Abandonem esse abandono”. Esse abandono é um procedimento. Um procedimento que nos salva ao passo que nos leva eternamente a repeti-lo, em outras séries, em uma outra lógica. Numa das passagens de um dos ensaios do livro, Aira pergunta o que devemos fazer com a literatura, com a “literatura arte”. Para, então, responder: “Escrevê-la, evidentemente”. E nesse contexto, como pensar aquela literatura que não necessariamente é uma “literatura arte” e que inunda todas as livrarias? Dias atrás, fiquei bastante perplexo quando, folheando os livros de uma pequena livraria de uma pequena cidade (União da Vitória), presenciei quatro ou cinco jovens, num curto espaço de tempo, entrarem e pedirem à atendente o mesmo livro. Um tal de Crepúsculo. Fiquei pensando quando veria o mesmo acontecer com Guimarães Rosa. Entra um e sai outro, todos perguntando: “Você tem aí o Grande Sertão Veredas?”. Mas pensei um pouco e cheguei à conclusão: “Ótimo, melhor lerem o Crepúsculo do que não lerem nada”. Talvez foi um pouco o que o Aira pensou sobre Best Sellers. Ele sabe que esse tipo de literatura não é necessariamente um horror, mas sabe também que a verdadeira literatura continua sendo o que há de melhor: “E com isso podemos terminar denunciando outro equívoco freqüente, o daqueles que afirmam que o best-seller é um atentado contra a cultura. Tudo ao contrário. Lendo-os se aprende história, economia, política, geografia, sempre à escolha e de forma divertida e variada. Lendo-se literatura genuína, no entanto, não se adquire nada além de cultura literária, a mais inofensiva de todas”. Quem lê um Best Seller sobre conspirações, talvez sinta vontade de ler outros livros sobre conspirações. Quem lê um livro de Guimarães Rosa, sobre o sertão-mundo, provavelmente desejará ler outros romances de Guimarães Rosa, e não apenas outros romances sobre sertão. É um pouco o que pensa Aira. Na boa literatura, o autor é mais importante do que a história.
Os procedimentos aparecem a todo momento nesse livro de artigos, ou ensaios, seja lá qual for o gênero. A nova escritura como sinônimo de procedimento, como sinônimo de ready-made (Aira faz várias referências explícitas a Duchamp). A poesia como suporte, e não como fruto de um gênio: “Ninguém leva uma obra para casa, porque isso equivaleria a levar o artista, seu trabalho, sua vida. Apenas se desdobrando em Sábio Louco, em engenheiro secreto de suportes, o artista pode continuar sendo artista e vender convenientemente suas obras. Assim todos ficamos contentes”. O escritor lembra o exemplo de Klee que pintava ou desenhava sobre um suporte por alguns minutos, apenas para justificar o imenso trabalho de preparação do suporte: passava horas preparando tintas e telas. Assim, o procedimento não dá importância ao momento convencional da criação: “Põe de cabeça para baixo a história tal qual a conhecemos”. Agora, fica um pouco mais claro o motivo de reler a história de Rugendas. Em um dos momentos, o narrador de Um acontecimento na vida do caixeiro-viajante observa: “(...) existe um abismo tão grande entre uma história e outra ou entre uma história e a falta de história, entre o vivido e o reconstruído (mesmo quando a reconstrução é organizada com perfeição), que diretamente, ele (a personagem) não vê nenhuma relação entre elas”.
Em um dos textos mais interessantes do Manual, “Por que Escrevi”, Aira se propõe a pensar por que escreve, por que escreveu, por que poderia continuar escrevendo: “Uma vez que se reconhece poder à literatura, tem-se de perguntar pelo que pode esse poder. Aqui, o mínimo coincide com o máximo. O mínimo: continuar vivo. Mesmo em más condições, doente, pobre, decrépito, ter sobrevivido aos fatos para dar testemunho. Escreve-se a partir desse mínimo, mas só pelo fato de escrevê-lo já se torna um máximo. A transformação do sujeito em testemunha cria o indivíduo, ou seja, a particularidade histórica intransponível. O escritor se investe dos superpoderes do único”. Por isso, penso, seguindo as pegadas de Aira, o escritor deve continuar!
Depois de ler a ficção sobre Rugendas, e antes de ler Pequeno Manuel de Procedimentos, li As noites de Flores (2004). Deixei para o final porque quero terminar com seu começo. Neste romance, Aira imagina a rotina de um casal, Aldo e Rosa, que se vê obrigado, depois da crise que assolou a Argentina, a trabalhar durante a noite, entregando pizzas a pé no bairro de Flores, nos arredores de Buenos Aires. Em uma entrevista para o jornal O Estado de São Paulo (30 de junho de 2007), Aira falou que concebeu a idéia de escrever o livro certa noite, quando voltava para casa com a mulher. Lembrou que o filho voltaria da aula à meia-noite. Então, compraram uma pizza para ele e levaram para casa. Era uma noite agradável de primavera, caminhavam pelas ruas vazias, com a pizza. Pensou que poderia ser um trabalho agradável para um casal mais velho. No dia seguinte, começou o romance. Como o idílio não fornecia material para, no máximo, três páginas, então teve de começar a inventar. Na orelha do livro, publicado no Brasil também em 2006 e também traduzido por Paulo Andrade Lemos, Carlito Azevedo – que escreveu também 13 Variações sobre César Aira, em que analisa a obra do autor - observa que há autores de uma inteligência radical, outros que impressionam pela capacidade aparentemente inesgotável de inventar histórias: “Quando as duas qualidades se unem (mas isso é tão raro) surge um Raymond Roussel, um César Aira, que um dia já foi chamado o segredo mais bem guardado da literatura argentina”.
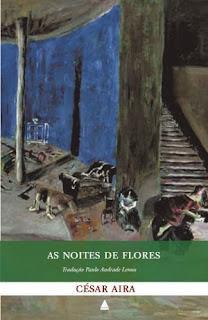
Cito o Carlito apenas para dizer que apesar de Aira construir uma máquina narrativa que suscita uma série de reflexões teóricas sobre a arte, ele não deixa de criar boas histórias – no fim das contas toda teoria é também uma ficção. Basta lembrar as primeiras frases de As Noites de Flores, para perceber que só o enredo já bastaria para nos convidar à leitura: “Um casal de meia-idade de Flores, Aldo e Rosita Peyró, adotou um ofício curioso no qual eram únicos, despertando a curiosidade dos poucos que sabiam disso: faziam entregas noturnas em domicílio para uma pizzaria do bairro. Não que eles fossem os únicos a fazê-lo, como ficava patente pelo exército de rapazes de moto que ia e vinha pelas ruas de Flores e por toda Buenos Aires desde o pôr-do-sol, como camundongos no labirinto de um laboratório. Mas não havia nenhum outro casal de meia idade (nem jovem) que fizesse isso a pé, e do seu próprio jeito”.
c.moreira














