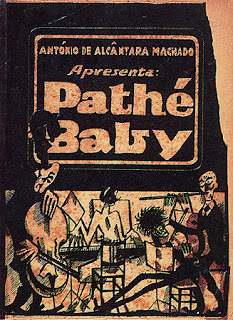Antes de discutirmos a emancipação da
literatura brasileira, convém abordarmos a questão do nacionalismo, entendido
por Antonio Candido como fundamental no processo de nossa autonomia. Como veremos,
tanto o nacionalismo quanto a autonomia estão repletos de impasses críticos e
teóricos.
Em março de 1973, Machado de Assis publica na revista Novo Mundo o ensaio “Notícia da atual literatura brasileira: instinto de nacionalidade”. Nele, o
bruxo do Cosme Velho observa que um poeta não é nacional apenas por inserir em
seus versos nomes de flores e aves do país, o que pode dar uma nacionalidade de
vocabulário e nada mais. Assim, pode-se apreciar a cor local, mas é preciso que
a imaginação lhe dê contornos. As conhecidas idéias sobre a matéria do instinto
de nacionalidade mostram um momento de maturidade crítica. Nesse processo a
posição machadiana conceitua o nacional como construção e como problema. Machado
toma por errônea a opinião que só vê espírito nacional em obras que tratam de
temas locais, o que demonstra que um escritor pode ser um homem de seu tempo e
de seu país mesmo tratando de assuntos remotos no tempo e no espaço. É o que
pensa Afrânio Coutinho, em Conceito de Literatura Brasileira, ao afirmar que o
sentimento de “brasilidade” só terá eficiência e validade se não se opuser ao
legítimo vaivém de correntes que se entrosam e se vivificam entre o nacional e
o universal. Não é à toa que Haroldo de Campos considera Machado de Assis
nacional por não ser nacional.
Machado de Assis
O crítico Raul Antelo, em Algaravias:
discursos de nação, reflete sobre a radical impossibilidade de se pensar
conceitos de nação e ficção como definidos a priori e livres de controvérsia. Isso
porque os campos da literatura e do nacional não conhecem fronteiras precisas,
podendo, enfim, avançar-se o critério paradoxal da excentricidade como o mais
adequado princípio para a literatura e para o nacional. Não seria fortuito
lembrar que o universo literário espreita as margens do sistema, nunca se
estabilizando em seu interior. Da mesma forma, a ideia de nacional não nos
permite isolar objetos que possamos, a rigor, chamar de nacionais. Não há esses
objetos. Existe o nacional apenas como uma dimensão peculiar do mundo
simbólico, não pressupondo um dado espontâneo, mas apenas uma identidade
socialmente construída. Daí a opção de Antelo pensar o nacional não como uma
tradição, mas como uma tradução, o que problematiza toda uma linhagem crítica
pautada na ideia do nacional como pressuposto para a autonomia, como é o caso
de José Veríssimo e Antonio Candido.
Raúl Antelo
Problema correlato ao da origem e autonomia é
o da nacionalidade e do nativismo. Afrânio Coutinho, que polemiza com Candido
sobre a origem da literatura brasileira, observa, no já citado Conceito de
Literatura Brasileira, três formas de nacionalismo em literatura. Em primeiro
lugar, a literatura compreendida como instrumento de um ideal nacional de
expansão e domínio político de um povo ou nação. Evidentemente, esse
nacionalismo é um dos mais perniciosos para a própria nação da qual se faz
arauto e para os demais países. O segundo tipo de nacionalismo é o do
pitoresco, que valoriza manifestações literárias regionais, cultivando-o e
exagerando-o no pressuposto de que nele reside o verdadeiro caráter da
nacionalidade. A valorização do pitoresco resultou em obras interessantes, no
entanto, não tem sido muito fecundo, pois limita a seleção de materiais
artísticos, não considerando a universalidade necessária à literatura. Mas há
exceções. Pensemos, por exemplo, em algumas manifestações nacionalistas do
romantismo brasileiro. José de Alencar consegue desenvolver com Iracema uma
literatura nacional, ao imaginar a gênese de uma América mestiça, e também universal
ao materializar com presteza a representação do amor e da dor, temas
tipicamente universais. Assim, a literatura de Alencar poderia ser enquadrada
na terceira forma de nacionalismo, o autêntico, que pode aproveitar temas
regionais sem criar uma doutrina que o empobreça. Essa forma equivale ao
instinto de nacionalidade descrito por Machado. Para alcançá-lo é preciso
desenvolver um “sentimento íntimo”. Quanto mais fiel o escritor for a esse
sentimento – as palavras são de Machado – mais nacional (universal) será a
obra.
Antonio Candido
Partimos do pressuposto de que o nativismo é
anterior ao nacionalismo em nossa literatura. É o que pensam a maioria de
nossos críticos e historiadores da literatura. José Veríssimo defende que desde
as primeiras manifestações literárias do Brasil, já podemos entrever uma
postura nativista que desencadearia o sentimento nacionalista. Antonio Candido,
seguindo as pegadas de José Veríssimo, desenvolve a tese a partir da ideia da
nação como fio condutor de nossa autonomia. Para ele, a literatura ajudou a
fundar um imaginário de nação, contribuindo para a nossa autonomia política.
Antes do Arcadismo, existiam apenas
manifestações literárias, que não chegaram a construir um sistema. Sistema esse
pautado pela tríade autor-obra-público. Somente quando esse sistema passou a
operar é que podemos falar em uma literatura brasileira (autônoma). Para
Candido, os árcades foram os primeiros a se empenhar em construir uma
literatura como prova de que os brasileiros eram tão capazes quanto os
portugueses, o que se intensificou depois de nossa Independência. Ou seja, o
movimento romântico consolidou um processo de autonomia que vinha se delineando
desde a obra de Cláudio Manuel da Costa, em meados do século XVIII. Se o
nacionalismo só vai aparecer com força no século XVIII e se consolidar no
século XIX, o sentimento nativista, começa a aparecer ainda no século XVI.
Cláudio Manuel da Costa
Sobre esse fato vale lembrar do conceito de
obnubilação, desenvolvido por Araripe Junior, segundo o qual o europeu aqui
chegando obnubilava a vida que deixou para trás. Esse processo modificava
intensamente o homem, gerando um gradativo esquecimento dos laços afetivos com
a Europa, o que favorecia um sentimento de apego à terra que começava a ser
colonizada. Dessa maneira, um novo homem criou-se desde o primeiro instante em
que botou os pés no novo Mundo. Daí a polêmica entre Candido e Coutinho, pois
este acredita que a literatura brasileira, desde o século XVI, já não é um mero
“ramo” ou “galho” da literatura portuguesa. E o fator responsável por isso foi,
em sua opinião, o apego a terra, ou seja, o nativismo, que já aparece em
textos de José de Anchieta. Ao lado da corrente jesuítica, outra se formou. A
da exaltação da terra, também com intenções persuasivas, criando-se assim um
verdadeiro ciclo de literatura nativista, um novo mito do eldorado ou terra
prometida, rica e farta, habitada pelo bom selvagem de Montaigne. Sobre essas
utopias que se iniciaram com Tomas Morus, passando por Campanella e Francis
Bacon, até os textos socialistas do final do século XIX , merece destaque o
livro Visão do Paraíso, de Sérgio Buarque de Holanda, que analisa as
representações históricas e literárias que personificaram essas visões. É o
caso também de boa parte da literatura de informação produzida por figuras como
Pero Magalhães de Gandavo, Gabriel Soares de Sousa, Rocha Pita, entre outros.
Afrânio Coutinho
Para José Veríssimo, no período colonial,
salvo raras exceções, a literatura praticada aqui não fazia senão imitar
inferiormente a literatura portuguesa. Assim, autores como os do barroco, em
sua maioria, são considerados como poetas medíocres. É justamente por
produzirem uma obra desligada das idéias de nacionalidade e nativismo que eles
são sequestrados dos estudos literários. No entanto, poderíamos pensar, na
esteira do pensamento do crítico e escritor cubano José Lezama Lima, que os
escritores barrocos estavam pensando a arte de um ponto de vista
pós-nacionalista, para usar uma expressão de Décio Pignatari, mesmo antes do
espaço geográfico latino-americano constituir nações tal como as conhecemos.
Lezama Lima consegue desconstruir o binômio nacional cosmopolita ao pensar o
barroco como arte da contra-conquista e não como arte da contra-reforma. Isso
porque esse movimento artístico do século XVII é considerado o “começo genial”
de nossa literatura. Nas suas palavras ele foi uma tomada de consciência, uma
resposta artística do colonizado em relação ao colonizador. Uma espécie de
antropofagia pré-oswaldiana, já que foi por meio da arte que o artista barroco
(colonizado) pode colonizar esteticamente o colonizador. É caso de Aleijadinho
que mesclou formas barrocas europeias com traços artísticos afro-indígenas. É
também o que fez o índio Kondori, na Igreja de San Lorenzo de Potosí (sobre isso, já escrevi aqui há algum tempo), ao
misturar a figura larval de anjos barrocos com entidades mitológicas da cultura
inca. É justamente por pensar a arte além das fronteiras do “nacional” que o
artista barroco conseguiu desenvolver um instinto não menos nacional de
nativismo e nacionalidade.
José Veríssimo
Isso tudo apenas para concluirmos que os
conceitos de nacionalidade e nativismo são problemáticos. Uma literatura
autônoma não se faz apenas com temas e vocabulário locais. Perceber isso é
fundamental para entendermos um pouco melhor aquilo que se convencionou chamar
de literatura brasileira. Lembremos da previsão de Marx e Engels, ao afirmarem
que em lugar do antigo isolamento das províncias e das nações bastando-se a si
próprias, desenvolvem-se relações universais. E que o que é verdadeiro em
relação às produções materiais o é também no tocante às produções do espírito.
A estreiteza e o exclusivismo nacionais tornam-se cada dia mais impossíveis e
da multiplicidade das literaturas nacionais nasce uma universal, pós-autonômica
e superior a qualquer tentativa de nacionalidade ou nativismo.
Suposto retrato de Aleijadinho
Não seria fortuito lembrar que, em 1827,
Goethe, em uma carta endereçada a Eckermann, vai cunhar o termo Weltliteratur,
defendendo a emergência de uma literatura universal em detrimento de uma
literatura nacional. Penso que alguns séculos depois de Aleijadinho, com a
antropofagia oswaldiana, no século XX, tomamos consciência da necessidade de
pensar o nacional em relacionamento dialético ou dialógico com o universal.
Haroldo de Campos, em textos como “Da razão antropofágica” e “O sequestro do
barroco na formação da literatura brasileira”, ambos da década de 80, vai
recorrer ao nacionalismo como movimento dialógico da diferença e não como signo
platônico de uma origem.
Logo, mais importante do que conhecer esses
discursos de nacionalidade e nativismo é saber onde eles falham, de que maneira
constroem ficções, visões de mundo, tradições e traduções.
José de Alencar
Onde reside a nacionalidade da literatura?
Onde encontra ela seus elementos nacionais? Sobre isso, e para finalizar, vale
lembrar da polêmica entre José de Alencar e Gonçalves de Magalhães (Alencar vai
escrever uma série de artigos na imprensa carioca criticando Magalhães e
assinando com um pseudônimo). No dizer de Alencar, Magalhães formulou a questão
de um modo errôneo. O poema “Confederação dos Tamoios” fracassou no seu
instinto de nacionalidade, porque embora estivesse no caminho certo em busca de
uma nacionalização literária, mediante a exaltação dos feitos e da terra
brasileiros, não colocava com felicidade a solução do problema formal, ao
escolher um gênero cediço e adaptado a literaturas estranhas e antigas como a
epopeia. Ou seja, queria produzir uma literatura brasileira, mas sem produzir
uma linguagem, uma forma, brasileira. Tomava como mote o tema dos índios, mas
“colocava em suas bocas palavras estranhas”, próximas apenas da cultura
européia. Para Alencar o problema passava pela questão da linguagem, o que a
maioria dos escritores anteriores a Alencar, como Basílio da Gama e Santa Rita
Durão não conseguiram fazer. Apesar de que o poema Caramuru, de Durão já pode
ser considerado uma gênese do sentimento nacionalista que se intensificaria no
romantismo do século XIX.
Frei José de Santa Rita Durão
O amor de Diogo Álvares Correia por Paraguaçu, que é
alegoria de um amor do colonizador pela terra que descobriu e começou a
colonizar será aprimorado por poetas como Gonçalves Dias, em poemas como Canção
do Exílio, Juca Pirama e Os Timbiras. É por isso que Alencar mergulhou não
apenas nos temas locais e no seu vocabulário correspondente, mas principalmente
no ritmo, na sintaxe, na musicalidade da língua indígena, o que o fez ser
considerado por críticos como Henriques Leal, José Feliciano de Castilho,
Pinheiro Chagas, Franklin Távora e Joaquim Nabuco um assassino do vernáculo,
uma insurreição à língua portuguesa. Só o tempo conseguiu provar o contrário,
mostrando que a literatura brasileira, para firmar-se, necessitava não só de
uma investigação sobre a linguagem, como da transcendência da mera
nacionalidade ou nativismo.