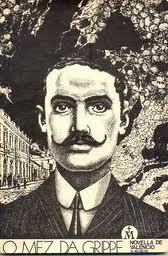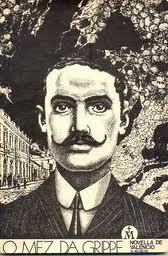
Flora Sussekind
chamou a atenção para a morte como tema obsessivo retrabalhado incessantemente
na ficção de Valêncio Xavier (in
XAVIER, 1999). Da epígrafe sobre um sepulcro cheio de cadáveres, extraída de
Sade, anunciando um verdadeiro cortejo de vítimas da epidemia de gripe
espanhola em O Mez da Grippe à perda
amorosa em o Mistério da Prostituta
Japonesa, da história da menina de rua encontrada morta, nua, em um trem
fantasma à reconstituição da morte coletiva dos tripulantes dos cinco navios
brasileiros torpedeados, em agosto de 1942, pelos alemães, o fim da vida, a perda,
a ruína, o luto, coincidem com o nascimento da escritura, bem como com a sua
produtividade. Não se trata apenas de perceber na caveira o gosto pela natureza
petrificada, como um sintoma da finitude das coisas, mas de perceber que esse
gosto aponta não só para aquilo que está morrendo, para a decadência, mas também para aquilo
que está nascendo ou sobrevivendo, pressupondo, assim, uma outra relação com o
tempo. Valêncio lê e escreve Curitiba a partir de ruínas e, assim como George
Simmel e Walter Benjamin, parece extrair delas uma beleza não descoberta até
então.

Caveiras de Jules Laforgue
Em sua tese sobre o
barroco, Benjamin (1984) percebe que a imagem da natureza petrificada é marca
daquilo que a história chegou a ser. A história, nesse sentido, se exprimiria
numa caveira. Susan Buck-Morss lembra que os poetas alegóricos liam um
significado similar no emblema da caveira humana, “o resíduo esquelético de
olhar vazio que, alguma vez tinha sido o rosto humano” (1992, p. 202). Nesse
contexto, o emblema da caveira poderia ser lido de duas maneiras: “O espírito
humano petrificado; mas é também natureza em decadência, transformação do
cadáver em esqueleto que será pó” (idem,
p. 202). É nesse sentido, penso, que deveríamos ler a alegoria, responsável por
transformar os “seres vivos em cadáveres ou em esqueletos, as coisas em
escombros e os edifícios em ruínas” (GAGNEBIN, 2007, p. 39). Gagnebin faz esta
referência pensando na morte do sujeito clássico operada pela alegoria. Para
ela, é esta morte, e a consequente desintegração dos objetos, que faz ressurgir
a forma alegórica em Baudelaire: “Benjamin vê no capitalismo moderno o
cumprimento desta destruição. Não há mais sujeito soberano num mundo onde as
leis do mercado regem a vida de cada um, mesmo daquele que parecia poder-lhes
escapar: do poeta” (Idem, p. 39).

Ilustração de Félicien Rops, para Flores do Mal
Benjamin aprofunda a
noção da não-identidade essencial da alegoria, chamando a atenção para a
dialética do barroco, entre o jogo e o
luto. Tal dialética, que aproxima Baudelaire
do universo barroco, oscila entre a melancolia, que brota do luto, e a
produtividade que brota dessa perda. No século XIX, contexto das passagens
parisienses, reaparecem dois traços fundamentais do barroco, a rejeição e
veneração do mundo profano. Assim como a significação e a morte amadurecem
juntas, a poesia se entrelaça com a morte, fazendo surgir desse contato, a
efígie de uma caveira. Não à toa, o símbolo, ou melhor, a alegoria, de O Cenáculo, grupo literário simbolista
liderado pelo poeta Dario Vellozo a partir do final do século XIX, em Curitiba,
toma para si, como emblema, um escudo datado de 1893, de autoria de Silveira
Neto. As imagens nele gravadas são uma cruz, uma pena e uma caveira. Ou seja, a
rejeição do mundo profano, a poesia e a morte.
Em Valêncio, outros
signos da morte, além dos já citados, poderiam ser lembrados, como a esfinge de
mármore de um dos túmulos do Cemitério Municipal em “A moça que virou tigre” e
a morte autoral anunciada em Meu 7º Dia:
uma novella-rebus, em que a alusão à
morte do autor faz lembrar o processo acephalico
de despersonalização, do sujeito que abre mão de sua cabeça como forma de
redenção, aspecto presente na poesia simbolista, repleta de caveiras, como na
ficção do próprio Valêncio. Em Minha mãe
morrendo e o menino mentindo, vemos a famosa fotografia das cabeças
degoladas do bando de Lampião. No decadentismo, encontramos com freqüência a
figura de Salomé, pedindo a cabeça de João Batista, seja em Jules Laforgue,
Mallarmé, Oscar Wilde. Em Valêncio, no texto “Memórias de um homem invisível”,
deparamo-nos com um homem de cabeça cortada e de membro sexual em riste que sai
caminhando calmamente depois da interrupção da projeção de um filme numa sala
de cinema.

Cabeças cortadas, de Lampião e seu bando
Não seria fortuito
observar que a recorrente aparição da morte, da cruz e da caveira, em Valêncio,
parece ganhar potência ao ser colocada em rede, evocando, assim, uma tradição
de imagens mórbidas que percorre a literatura e as artes visuais no Paraná.
Talvez fosse possível montarmos um painel como aqueles que integram o Atlas Mnemosyne, na tentativa de
pensarmos o texto de Valêncio além do livro, evocando, assim, outros meses,
tempos heterogêneos, e outras imagens que não aquelas apresentadas em suas
páginas.
Imaginemos um
primeiro painel. Nele, encontramos, além do já citado escudo do grupo Cenáculo, uma capa de Pallium,
revista simbolista curitibana do final do século XIX (1898), editada por Júlio
Perneta e Silveira Neto. A imagem de uma caveira substitui o pingo do i do título,
apontando, assim, para a tópica da morte como condutora não só da revista como
também de boa parte da poesia finissecular. Ao lado da imagem, encontramos a
reprodução da capa de uma outra revista, a publicação literária Lama, de inspiração noir, publicada em Curitiba a partir de
2009. Como em Pallium, o título
comporta uma caveira, agora como um detalhe menor, mais não menos sintomático,
tendo em vista não só o universo pulp
fiction da revista, como também os ecos de Valêncio. Segundo Fabiano Viana,
editor de Lama, o escritor foi a
principal referência para a revista, que publica foto-novelas policiais e
contos fartamente ilustrados, apontando para um requinte visual pouco
encontrado em revistas literárias do gênero, no Brasil.

Outros exemplos
poderiam ser agregado ao painel, como algumas ilustrações de Poty preparadas
para o Grande Sertão Veredas, de
Guimarães Rosa, bem como os esqueletos de uma série sobre a Guerra,
ou mesmo imagens confeccionadas para os livros Curitiba, de Nós e A
Propósito de Figurinhas, produzidos em parceria com Valêncio. Que
podemos pensar a partir delas?
Ao discutir o poema
“Caveira”, de Cruz e Sousa, Leminski apontou para um paradoxo dos produtos
culturais bastante semelhante àquele indicado por Foucault sobre os homens
infames. Para Leminski, os produtos culturais sobrevivem ao autor, sendo uma
“vingança da vida contra a morte”: “Por outro lado, só podem fazer isso porque
são morte, ou seja, “suspensão do fluxo do tempo, pompas fúnebres, pirâmides do
Egito” (LEMINSKI, 1983, p. 73). Em outras palavras, sobrevivem fazendo habitar
em um mesmo espaço, noutro tempo, a vida e a morte. E ao assumirem esse
paradoxo assumem a ruína no que ela tem de protéico e magistral.
No peito do deus acéfalo,
emblema do grupo Acephále, de Georges
Bataille, duas estrelas, e no lugar do sexo, uma caveira, semelhante àquela que
Silveira Neto gravaria no escudo do grupo Cenáculo.
Paulo Leminski, em
uma de suas anotações, pertencentes hoje ao acervo da Biblioteca da Fundação
Cultural de Curitiba, ao explicar a capa e a contracapa de seu romance-ideia Catatau, observa que enquanto a moldura
(capa), por meio de um desenho, representa lutadores vivos; a contramoldura
(contracapa), por meio de uma foto, representa a caveira de dois amantes
mortos. Os lutadores estão vivos (embora arte, ideogramas); os amantes estão
mortos (embora vida, gente, fotos). O poeta vê a fotografia como um lugar de
morte, não estando distante de Roland Barthes quando este afirmou que “a foto é
como um teatro primitivo, como um Quadro Vivo, a figuração da face imóvel e
pintada sob a qual vemos os mortos” (1984, p. 53). Susan Sontag (2004) escreveu
que todas as fotos são memento mori, ou
seja, testemunham a dissolução implacável do tempo, ao passo que lhe devolvem
vida, instalando, assim, um saber nas coisas que estão mortas, para usar uma
expressão de Benjamin ao tratar da crítica. Vale lembrar que a expressão memento mori acompanha todo o livro de
Valêncio.
É recorrente a
aparição das caveiras não apenas na poesia simbolista, mas na própria crítica e
iconografia do período. Jules Laforgue, no final do século XIX, reafirma o
gosto pela natureza petrificada em um esboço de caveiras. Gonzaga Duque, um dos
críticos simbolistas, enxergou uma caveira em uma das cabeças de bronze
esculpidas pelo português Teixeira Lopes, na primeira metade do século XX. Cabe
lembrar que Baudelaire também se interessou pelas caveiras, como imagem da
“inquietude petrificada”. Impressionado por uma gravura do século XVI que
aparecia em um livro de Langlois, pediu a Bracquemont que ilustrasse a capa da
segunda edição de As Flores do Mal,
utilizando a gravura como modelo. No entanto, Baudelaire não gostou do
resultado, substituindo o desenho por um retrato seu. O projeto da caveira só
seria retomado em 1866, por Félicien Rops, para a capa de Epaves.
Em Valêncio, outra
imagem que emblematiza a morte chama a atenção. Na fotografia incluída no
capítulo referente ao dia 15 de Novembro, em O Mez da Grippe (1998, p. 53),
encontramos uma carruagem fúnebre. Nela, o espetáculo da morte ganha
ares quase imperiais, em um dia que celebra justamente a morte do Império. O
fato parece não ser gratuito e contrasta com outras passagens do livro, como
aquela em que D. Lúcia relembra que enquanto os muito ricos faziam enterro com
carro, cavalos de penacho e pano preto, a maioria das exéquias acontecia a pé,
com os pobres curitibanos carregando o caixão até o Cemitério Municipal. O que
chama a atenção é uma certa monumentalidade que acompanha outras imagens da
mesma época, apontando para uma certa espetacularização da morte. É o que vemos,
por exemplo, em uma cena retratada por Julia Wanderley, pioneira da fotografia
no Paraná. A outra imagem refere-se a um fotograma de um filme
de Aníbal Requião do cortejo do Coronel João Gualberto, tombado no front da Guerra
do Contestado, no Irani - o filme foi perdido no incêndio da Cinemateca
Brasileira. E por fim, uma ilustração de Poty para o livro Curitiba, de Nós, que aborda cenas típicas do cotidiano curitibano.
A semelhança entre as
três fotografias é no mínimo curiosa, assim como mais curioso é o fato de seus
gestos sobreviverem na ilustração. Para acompanhar o desenho de Poty, Valêncio
escreveu a seguinte passagem, que pode ser lida como precursora de O Mez da Grippe, bem como elo entre as
imagens de Júlia Wanderley e de Aníbal Requião:
A morte é algo
sumamente desagradável, seja em Curitiba, seja em Nova Iorque ou qualquer outro
lugar do mundo. A morte curitibana talvez fosse menos amarga, lá pelos anos
vinte do nosso século: qualquer pessoa podia acompanhá-la passo a passo, pois
os jornais tinham a gentileza de noticiar não só os passamentos e funerais,
como também a relação dos citadinos enfermos. Com esta propaganda da doença, a
morte deixava de ser um imprevisto: sabendo pelos jornais que algum amigo
estava doente, era mais fácil mandar tingir o terno de preto e ir-se preparando
para o funeral que, diga-se de passagem, naqueles bons tempos devia ser muito
bonito: coche fúnebre, guiado por cocheiro de cartola, vinha sempre puxado por
cavalos emplumados (1975, s/p).
Dispor essas imagens em um painel pode nos
ajudar a ler não só os imagens presentes na ficção de Valêncio como mirá-las a
partir de outras redes até porque a complexidade temporal do meio fotográfico
se revela constitucionalmente apta para esse tipo de atravessamento da memória
na história (DIDI-HUBERMAN,
2008).
Eis o jogo de um
atlas. Como não ver nele a imagem fascinante do mosaico de cacos e cores,
descrito por Baudelaire no texto “Moralidade do Brinquedo”, em que Didi-Huberman
(2006) encontra uma expressão adequada para a dialética benjaminiana das
imagens?